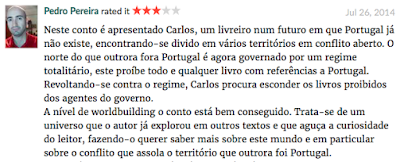A manhã foi passada a descansar dos últimos dias. À tarde fui à gruta de Font de Gaume. É um sítio espectacular, uma das poucas grutas com pinturas paleolíticas originais. À noite tentei retomar a escrita, mas acabei por ler notas e preparar-me para o desafio: já é um clássico eu meter-me nisto sem a devida preparação. O dia rendeu-me 26 palavras.
Pedro Cipriano
Blogue dedicado às minhas aventuras literárias. Novos artigos todas as segundas, quartas e sextas. Rubrica especial de domingo: Chá de Domingo.
quarta-feira, 2 de novembro de 2016
terça-feira, 1 de novembro de 2016
Nanowrimo 2016 - Dia 1: Aos trambolhões!
O primeiro dia deste desafio foi atípico!
É normal eu iniciar os desafios literários em grande, com uma boa contagem de palavras no primeiro dia. Não foi isso que aconteceu. Estive o dia todo fora, em visita à gruta de Lascaux e ao Castelo de Commarque, ambos em França! à noite, tentei iniciar o desafio, descobrindo que estava muito mal preparado. Acabei por escrever apenas o título e pouco mais num documento, totalizando umas míseras 7 palavras.
segunda-feira, 31 de outubro de 2016
A Reabilitação
Felizmente, para a maioria, o processo não era longo. Uns dias e estava terminado. Quem ditava a necessidade de reabilitação eram os agentes do Estado. Uns sujeitos que vestiam fatos fora de moda e que imiscuíam em demasia na vida das pessoas. Tudo o que não estivesse nos conformes com o que se esperava dum cidadão exemplar podia ser punido. Esses agentes eram uma polícia que estava acima da polícia. Nem eles escapavam do controlo dos seus pares. Quem realmente os liderava, ninguém sabia ao certo, já que até o presidente e ministros podiam ser investigados.
Jorge viu-se no meio do processo numa manhã do fim de Julho de 2039, enquanto vendia cupões de alimentação, na rua de Santa Catarina. Um crime que não praticava por simples desobediência, mas por necessidade. Quando os agentes o abordaram, limitou-se a levantar os braços e fixar o olhar na calçada. Talvez não lhe dessem a pena mais pesada. Não houve juiz, nem advogados, nem sequer um julgamento. Mantiveram-no na cela minúscula durante um par de dias. Depois disso, obrigaram-no a entrar num camião com outra dezena de pessoas. Ninguém ousou trocar uma única palavra sobre o que se estava a passar. Talvez soubessem o que se ia passar. Jorge não sabia.
O camião percorreu quilómetros sem fim, até que, ao pôr-do-sol, chegaram ao acampamento. O recinto estava cercado de arame farpado. Não era claro se servia para impedir a entrada ou a saída. O silêncio imperava entre eles, como o aplicar de uma regra que não fora sequer enunciada. Foram distribuídos por casernas de madeira. Havia muitos mais na mesma situação.
Como refeição foi-lhes dado uma sopa insípida. Jorge estremeceu quando lhe colocaram um uniforme militar esburacado nos braços. Viu medo e resignação nos olhares dos outros. Também eles tinham compreendido o que os esperava. Com as roupas civis, desapareceu a esperança. Nos beliches não havia nem cobertores nem colchão, obrigando-os a dormir vestidos sobre as traves de madeira.
― Toca a levantar! A vossa reabilitação começa hoje! ― rugiu uma voz.
Jorge abriu os olhos. Ainda o Sol não tinha nascido. Mais uma vez, foram metidos em camiões. A viagem não foi longa. Pararam na encosta dum monte. Jorge contou cerca de uma centena de pessoas na mesma condição.
― A vossa reabilitação é simples ― explicou-lhes o sargento. ― Do outro lado da encosta há um rio e uma ponte atravessa esse rio. Quem chegar ao outro lado da ponte é livre e todos os seus crimes são esquecidos. Quem se acobardar é fuzilado. Boa sorte!
Depois passaram-lhe as armas para as mãos. A de Jorge deveria ter pelo menos uns cinquenta anos. Duvidou que sequer funcionasse.
O grupo subiu o resto do monte e quando chegou ao topo, viu que havia trincheiras escavadas por entre as ruínas de uma povoação. A cabeça do homem que estava a seu lado explodiu, numa mistura de osso, sangue e massa encefálica. Jorge atirou-se para o chão e os outros dispersaram de imediato, abrigando-se por detrás do entulho. Ouvia-se uma metralhadora ao longe. Sentiu a face húmida. Ao passar a mão, viu uma substância pastosa vermelha. A custo, conteve o vómito. Respirou fundo três vezes e correu para a pedra seguinte, vagamente consciente que o estavam a alvejar. Uns segundos depois atirava-se para a trincheira, onde se deixou ficar, ofegante. Como ele, a maioria tinha conseguido refugiar-se ali. No entanto, alguns haviam ficado para trás e parecia improvável que se voltassem a levantar.
― O que é que estão à espera? Avancem! Quem estiver nesta trincheira daqui a um minuto é fuzilado ― ouviu um militar ameaçar.
Hesitou. O coração aos pulos no peito. Apertou o cano da arma e galgou a extremidade de forma desastrada. A terra de ninguém não era extensa, mas não oferecia qualquer protecção. Duas dezenas de metros era o que os separava da ponte. Foram de imediato alvejados. Jorge não viu outra escolha que não fosse avançar e procurar a protecção da ponte. O som dos disparos desorientava-o. Houve quem saltasse para o rio. Outros tentaram atravessar a ponte por cima.
Ele não chegou tão longe. A primeira bala acertou-lhe acima do joelho, numa explosão de dor. A segunda no ombro, fazendo-o largar a arma. As três seguintes no tórax. O corpo avançou um par de passos e caiu para a frente, à entrada da ponte. A sua reabilitação terminara.
Foto: Ana Filipa Piedade
Este conto foi publicado originalmente no blogue Fantasy & Co.
sexta-feira, 28 de outubro de 2016
O Campo
Para além do muro ficava o campo proibido. E a bola de Fábio foi lá parar.
― Oh raios! Já é a terceira bola que vai lá parar este mês ― resmunga, atirando um cachaço ao Alberto. ― E a culpa é tua! Podias ter mais cuidado! Amanhã trazes tu a bola!
Fábio sabia que não podia passar para o outro lado e muito menos ir brincar lá. Todos os pais eram unânimes. Acontecesse o que acontecesse, não poderiam passar para além do muro. Era perigoso. Infelizmente, ao lado ficava o único local onde ainda podiam jogar futebol depois da escola.
― Grande bola! Era só um rolho de trapos ― defende-se o Alberto, tentando devolver a agressão de um modo desajeitado.
― Não interessa, quem estraga velho, paga novo! Amanhã trazes uma bola! São as regras! ― impôs o rapaz.
Os colegas acenam o seu apoio.
― Sabem que mais? Vocês são uns mariquinhas, eu vou saltar ao muro e buscar a porcaria da bola.
― Não tinhas coragem! ― espicaça o Hugo, o mais gordo.
― Já vão ver se tenho ou não. Vou lá buscar a bola e vou agora. Vocês, como são uns mijões, podem ficar aí à espera.
Dito isto, eleva-se para o muro, com a ajuda dos braços, apoiando os cotovelos e alçando uma perna. No instante seguinte desaparece do outro lado. Os colegas não deixam escapar o desafio e sobem também ao muro. Vêem a mesma imensa área que ninguém pisara durante mais de uma década. A erva crescia frondosa e pequenos arbustos tomavam conta do local. Já o tinham observado várias vezes, mas nenhum tivera a coragem de descer para o outro lado.
No meio da vegetação, Fábio procura a bola.
― Nunca percebi porque é que os adultos não nos querem aqui – questiona-se o Hugo. ― Isto é um sítio porreiro para tanta coisa!
― Se calhar havia aqui alguma coisa má e agora já não há – deduz o Paulo.
― Talvez, talvez…
― Olhem, o Alberto está lá em baixo e ainda não lhe aconteceu nada. Não podemos ficar aqui e deixar que ele goze connosco ― constata o Fábio.
O grupo salta para a terra de ninguém. Assim que pisam o tapete verde, riem-se. Iriam ter uma história para contar aos colegas no dia seguinte. Os mais velhos iam roer-se de inveja. Iriam ser os heróis da escola.
― Eu ouvi dizer que aqui foi a linha da frente durante a Grande Guerra Europeia, eles nunca conseguiram entrar no Porto ― explica o Carlos.
― Tchii, isso já foi há mais de dez anos. Será que há armas por aqui perdidas? ― imagina o Paulo.
― Às tantas…
― Se houver, eu aposto que…
Uma explosão corta o ar. O impacto da onda de choque é imediato. Os ouvidos ficam a zumbir. Vêem pedaços de terra, vegetação, e não sabem bem mais o quê, voar. Ouvem gritos estridentes. A trupe corre na direcção do som, detendo-se a alguns metros do amigo.
O choque é tal, que correm na direcção oposta. Nenhum deles hesita em abandonar Alberto. O único pensamento é galgar o muro em direcção à segurança. Ninguém jamais iria esquecer do corpo mutilado e desfeito do amigo.
Durante outra geração ninguém iria passar para além do muro.
― Oh raios! Já é a terceira bola que vai lá parar este mês ― resmunga, atirando um cachaço ao Alberto. ― E a culpa é tua! Podias ter mais cuidado! Amanhã trazes tu a bola!
Fábio sabia que não podia passar para o outro lado e muito menos ir brincar lá. Todos os pais eram unânimes. Acontecesse o que acontecesse, não poderiam passar para além do muro. Era perigoso. Infelizmente, ao lado ficava o único local onde ainda podiam jogar futebol depois da escola.
― Grande bola! Era só um rolho de trapos ― defende-se o Alberto, tentando devolver a agressão de um modo desajeitado.
― Não interessa, quem estraga velho, paga novo! Amanhã trazes uma bola! São as regras! ― impôs o rapaz.
Os colegas acenam o seu apoio.
― Sabem que mais? Vocês são uns mariquinhas, eu vou saltar ao muro e buscar a porcaria da bola.
― Não tinhas coragem! ― espicaça o Hugo, o mais gordo.
― Já vão ver se tenho ou não. Vou lá buscar a bola e vou agora. Vocês, como são uns mijões, podem ficar aí à espera.
Dito isto, eleva-se para o muro, com a ajuda dos braços, apoiando os cotovelos e alçando uma perna. No instante seguinte desaparece do outro lado. Os colegas não deixam escapar o desafio e sobem também ao muro. Vêem a mesma imensa área que ninguém pisara durante mais de uma década. A erva crescia frondosa e pequenos arbustos tomavam conta do local. Já o tinham observado várias vezes, mas nenhum tivera a coragem de descer para o outro lado.
No meio da vegetação, Fábio procura a bola.
― Nunca percebi porque é que os adultos não nos querem aqui – questiona-se o Hugo. ― Isto é um sítio porreiro para tanta coisa!
― Se calhar havia aqui alguma coisa má e agora já não há – deduz o Paulo.
― Talvez, talvez…
― Olhem, o Alberto está lá em baixo e ainda não lhe aconteceu nada. Não podemos ficar aqui e deixar que ele goze connosco ― constata o Fábio.
O grupo salta para a terra de ninguém. Assim que pisam o tapete verde, riem-se. Iriam ter uma história para contar aos colegas no dia seguinte. Os mais velhos iam roer-se de inveja. Iriam ser os heróis da escola.
― Eu ouvi dizer que aqui foi a linha da frente durante a Grande Guerra Europeia, eles nunca conseguiram entrar no Porto ― explica o Carlos.
― Tchii, isso já foi há mais de dez anos. Será que há armas por aqui perdidas? ― imagina o Paulo.
― Às tantas…
― Se houver, eu aposto que…
Uma explosão corta o ar. O impacto da onda de choque é imediato. Os ouvidos ficam a zumbir. Vêem pedaços de terra, vegetação, e não sabem bem mais o quê, voar. Ouvem gritos estridentes. A trupe corre na direcção do som, detendo-se a alguns metros do amigo.
O choque é tal, que correm na direcção oposta. Nenhum deles hesita em abandonar Alberto. O único pensamento é galgar o muro em direcção à segurança. Ninguém jamais iria esquecer do corpo mutilado e desfeito do amigo.
Durante outra geração ninguém iria passar para além do muro.
Este conto foi originalmente publicado no blogue Fantasy & Co.
quarta-feira, 26 de outubro de 2016
Crítica: O Guarda-Livros
Este conto foi publicado em Maio e Junho de 2013 no Fantasy & Co. Enquanto escritor, foi um dos meu favoritos dessa fase, pois reflecte alguns dos meus receios para o futuro. Vou deixar-vos algumas das críticas que recebi.
E também a opinião de Inês Montenegro:
segunda-feira, 24 de outubro de 2016
Arraia
A noite desce sobre a serra como um manto, escondendo no seu âmago falésias rochosas e vales gelados. O vento assobia por entre granitos milenares. O quarto minguante da lua e as estrelas não deixam distinguir mais que algumas sombras.
Sou um desses vultos. Não sei quantos à minha volta serão reais. Parece que estou sempre a ouvir passos. Paro e olho para trás. Só o vento sopra. Estremeço e aperto o casaco contra o peito. Retomo a marcha, apoiado no cajado, caminhando tão rápido quanto a inclinação me permite.
Não faço ideia de quanto falta. A última refeição foi há dois dias. Tive sorte, o velho pastor para além de me dar janta e pernoita, ainda me deu indicações precisas do caminho a seguir. Não devo ser o primeiro que ele acolhe. Vi a foto de um rapaz pendurada ao lado de uma cruz. Trocamos um olhar e bastou. Não precisámos de dizer mais nada. Espero que nunca o descubram. Esforço-me por afastar esse pensamento da cabeça.
Deixei um bilhete na mesa da cozinha para a minha mãe. Apenas uma palavra: arraia. É o que precisa de saber. Como terá reagido? Talvez um dia o saiba. Espero que compreenda que não tenho outra escolha. Meio ano depois de o meu pai ter sido chamado, um tiro de morteiro deixou-o a uma distância que não pode ser vencida. Tiago, o meu irmão mais velho, foi dado como desaparecido faz este Natal um ano. O Vítor, o nosso vizinho de cima, ficou paraplégico numa derrocada. Parece que ainda lhe ouço os nocturnos, a fenderem a noite. E, como eles, tantos outros. Tinha de escapar. Não foi o mais brilhante dos planos, atravessar a serra no Inverno, no entanto o tempo estava a esgotar-se. Faço dezasseis anos daqui a um mês. Não deve demorar nem uma semana para que chegue a convocatória.
Chego ao topo da elevação. Ouço uivos à distância. O pastor tinha razão, não estou sozinho. A aldeia mais próxima fica a mais de dez quilómetros. Ninguém se aventura por aqui. Só cabras, pastores e a Divisão Hermínia. Avanço pelo meio das giestas, tão altas que me fustigam a face. As pálpebras pesam-me e os músculos doem-me, mas sei que se adormecer no meio deste frio, é possível que não acorde. Cada restolhar da vegetação faz-me saltar o coração. De acordo com o que o pastor me disse, devo estar nas Pedras Cruéis.
Os primeiros flocos batem-me nas pálpebras. Sou obrigado a parar num equilíbrio precário. Ergo os dedos gelados para proteger a face. Parece-me demasiado íngreme para descer. O fundo tanto pode estar a meio metro como a meia centena. O vento entra na roupa como se as costuras estivessem mal cosidas. Tremo ainda mais violentamente. Apalpo a roupa, sei que não tem muitos buracos. Volto atrás. De novo no topo, procuro a estrela polar. Segundo o velho, estou perto do ponto mais alto do país que se fragmentou há duas décadas. Aprendi na escola que Pena Tervinca passou a ser o mais alto.
Sigo pelo meio das urzes, a tentar evitar o vento. A minha atenção prende-se no piar de uma coruja vindo de uma árvore próxima. A vegetação agita-se. Sustenho a respiração. Um vulto veloz desaparece à minha direita. Aperto mais o cajado. Não sei se o conseguia soltar com os dedos assim enregelados.
Foi há dois meses que passámos a usar a velha Ponte Dona Maria. Nem tivemos outra escolha: a do Infante foi atingida num bombardeamento. Tivemos sorte: o nosso prédio foi dos poucos que escapou intacto. Quem me dera estar no quente da cozinha.
Quando a lua atinge o seu zénite, encontro-me à beira de um lago. Ao ver a água, apercebo-me da garganta seca. Mergulho a mão no líquido glacial e levo-a à boca. O frio espalha-se-me pelas entranhas. Recomeço a tremer. Bebo mais uma vez.
Passos ressoam nas pedras. Ergo-me e tento voltar à vegetação. Tropeço e caio num zimbro. Esbracejo para me libertar e, quando o consigo, escondo-me nos arbustos. O coração está a galope. Sustenho a respiração. Será que estou a imaginar coisas? Afasto-me dali o mais rápido que consigo. Os ramos castigam-me a cara. Não sei onde pára o cajado.
Quando dou por mim, estou no topo de outra elevação. Dor de burro, cortes nas mãos e na cara. Nada de grave. Cruzo os braços sobre o peito, apertando a roupa contra o corpo. A neve continua a cair, os flocos a acumularem-se sobre tudo. Ergo o olhar. Luzes ao fundo. O que serão? É melhor evitá-las, não vou arriscar. Por cima deste frágil manto branco que me envolve, uma nuvem cobre a lua.
– … não faço ideia – diz uma voz masculina.
Encolho-me no meio da vegetação.
– Nunca pensaste nisso? Dos que passam pra lá do rio, nenhum volta… Achas que se escapam disto? – devolve outra voz.
Os passos aproximam-se.
– Pensa lá um pouco… O que é que a gente faz quando apanha um Asturiano deste lado? Hã?…
Param quase colados a mim. Uma luz. Um cigarro é aceso. Consigo distinguir a sombra das armas. Estou demasiado perto. Respiro muito devagar. Os soldados partilham a mortalha em silêncio. As articulações doem-me. Não posso mexer um único músculo. Atiram a beata e esta aterra mesmo à minha beira. Deixo-os sumirem-se na noite antes de me mover novamente. Mal me consigo mexer.
Por sorte, encontro uma abertura perto, coberta de arbustos que afasto de modo atabalhoado. Cada movimento é uma tortura. Quando é que foi a última vez que dormi uma noite completa? Este recanto diminuto terá que servir. Deixo-me cair para o interior e encolho-me em posição fetal. O frio da rocha atravessa a roupa. Pelo menos aqui o vento não chega. O meu tremer é tão violento que se deve ouvir a metros. Não sei se vou conseguir dormir.
Na cozinha está-se bem. A mãe serve-me um prato de sopa, enquanto sorri. Diz-me que a ditadura e a guerra acabaram. Não me passa pela cabeça dizer-lhe que estava a pensar fugir no pico do Inverno. Sujeito a morrer nalgum buraco, perdido entre as patrulhas dum lado e do outro da arraia. Mergulho a colher na sopa e trago-a à boca. Sinto calor invadir-me o corpo, como o raiar da luz matinal. Até que enfim! Já não se sinto a tremer. Ainda bem, não deve faltar muito para o nascer do sol.
segunda-feira, 17 de outubro de 2016
Rios de Sangue - Parte 2/2
Podem ler a primeira parte deste conto aqui.
Com a ajuda do companheiro, colocou o Zé às costas e seguiu pelos túneis, todo dobrado, para que nenhum deles pudesse ser atingido do exterior. Cada passo era doloroso. Zé murmurava coisas sem sentido. O sangue do colega ia-lhe ensopando a roupa.
Com a ajuda do companheiro, colocou o Zé às costas e seguiu pelos túneis, todo dobrado, para que nenhum deles pudesse ser atingido do exterior. Cada passo era doloroso. Zé murmurava coisas sem sentido. O sangue do colega ia-lhe ensopando a roupa.
― Aguenta-te pá, já estamos a chegar ― encorajou-o.
Ao chegar ao fim da trincheira, soube o que desafio estava prestes a iniciar-se. Teria de percorrer um quilómetro no meio de um ataque para chegar ao hospital. Os cozinheiros e os estafetas faziam o mesmo caminho todos os dias, mas nunca de dia. Isto equivalia a pintar um alvo nas costas. Estremeceu antes de meter o pé na escada.
A partir dali, mexeu-se o mais depressa que o peso lhe permitia. Os disparos multiplicavam-se nas suas costas. Nenhum parecia apontado para eles. Tanto pelo que sabia, bastava um. As costas doíam-lhe. Sentiu as pedras debaixo do pé moverem-se. No momento seguinte, estava em queda. O embate com o entulho expulsou-lhe o ar dos pulmões. O Zé aterrou ao lado dele.
Deixou-se ficar no chão. Estava farto desta guerra. Bastava uma bala e isto acabava. Quase ninguém conseguia cumprir o tempo de serviço com vida ou sem uma lesão permanente. Mais valia ficar ali e esperar pelo inevitável.
Veio-lhe uma lágrima ao canto do olho. A mãe iria chorar quando soubesse. E a doce Leonor também. Era demais, já não bastava a mãe ter perdido o marido e a irmã o pai naquelas margens amaldiçoadas, agora iriam perder o filho e irmão. Ou talvez dois filhos e dois irmãos. Não sabia onde andava o Francisco. Ninguém sabia. A divisão dele nunca parava no mesmo sítio.
Ouviu um gemido a seu lado. Era o Zé. A família nunca o iria perdoar se o deixasse morrer aqui. Ergueu-se, tentando não pensar na batalha que se desenrolava nas suas costas. Pegou o colega ferido ao colo e retomou o caminho. Um pé à frente do outro, foi subindo o monte. As feridas do companheiro eram profundas e o sangue corria em demasia. Apressou o passo, já se via o topo do monte. Faz um esforço, quase atingindo o passo de corrida. No cimo da elevação já se vêem o centro de comando, as artilharias, o paiol e o hospital, que não são mais do que o aproveitar das construções da antiga vila.
Um par de minutos e estava no hospital. Já tinham passado várias semanas desde que ali tinha estado. As camas encontravam-se sobrelotadas e os médicos não tinham mãos a medir. Não conseguia sequer ver as enfermeiras. Estendeu o Zé sobre uma maca. Ninguém pareceu dar de conta que chegaram.
― Alguém me ajude. Ele foi atingido por um morteiro ― protestou, em voz alta.
Por fim um dos médicos aproximou-se.
― Não é preciso gritar ― reclamou, observando o soldado. ― Pode ir, eu trato dele.
Roberto saiu, mas deixou-se ficar por ali. Já não se ouviam os disparos. Parecia que a investida terminara. Não vale a pena perguntar como é que terminou, tudo aparentava ter voltado ao normal. Excepto para os que não irão ver outro dia.
― O que é que o soldado está aqui a fazer? ― perguntou-lhe um oficial.
― Tenente ― fez-lhe continência, depois de se levantar à pressa. ― Vim trazer um companheiro ferido.
― E o que é que está à espera para voltar ao seu posto?
― Estou à espera do anoitecer ― constatou, não percebendo como é que não era óbvio.
O homem afastou-se sem lhe responder. Era provável que estivesse atarefado com qualquer coisa.
Ao pôr-do-sol, o médico veio ter com ele. Trazia uns papéis na mão.
― Entregue isto ao comandante do seu pelotão ― ordenou, virando logo costas.
Assim que ficou escuro, pôs-se a caminho junto com o cozinheiros. O passo era mais lento que os restantes e acabou por ficar para trás. Quando chegou, já a comida tinha sido distribuída. Não se preocupou, foi direito ao abrigo do tenente.
― Onde é que raio estiveste? ― inquiriu, aproximando-se da sua face.
― Levei o Zé para ser assistido ― respondeu, passando-lhe os papéis.
O tenente era mais novo, mas tinha chegado àquela posição por ter frequentado o colégio militar.
― Era só o que mais me faltava ― comentou, passando os olhos pelo formulário. ― Outra baixa. Estás dispensado.
Roberto voltou para a trincheira. Sentou-se ao lado de Fábio, que lhe passou a malga da sopa para a mão. Trocaram um olhar. Não precisava dizer-lhe que não voltariam a ver o Zé.
Este conto foi publicado originalmente no blogue Fantasy & Co.
Este conto foi publicado originalmente no blogue Fantasy & Co.
Assinar:
Postagens (Atom)